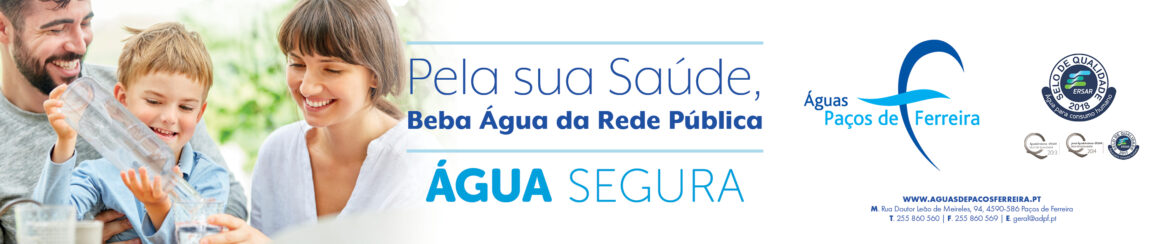Vivemos num mundo que anseia por paz, mas que parece perito em fazer a guerra. Quase diariamente, ouvimos falar de negociações, cessar-fogos, acordos e tratados que prometem silenciar as armas. Depositamos neles a nossa esperança, vendo-os como o caminho para um futuro menos violento. Mas serão estes acordos de paz aquilo que parecem? Serão eles o fim da violência, ou apenas a sua continuação por outros meios, mais subtis e talvez mais insidiosos?
Há mais de um século, um pensador crítico, Walter Benjamin, lançou uma suspeita profunda sobre a natureza dos tratados de paz. Numa análise desconcertante, sugeriu que a paz estabelecida por acordo legal, longe de ser o oposto da guerra, “contém essencialmente” a guerra dentro de si. Como assim? Benjamin argumentava que um tratado de paz faz duas coisas perturbadoras. Primeiro, ele legaliza o resultado da violência anterior: as fronteiras, os direitos, as obrigações que ele estabelece refletem, na maioria das vezes, a relação de forças criada pela guerra, o direito do vencedor ou o compromisso arrancado sob pressão. Não nasce da justiça, mas da força.
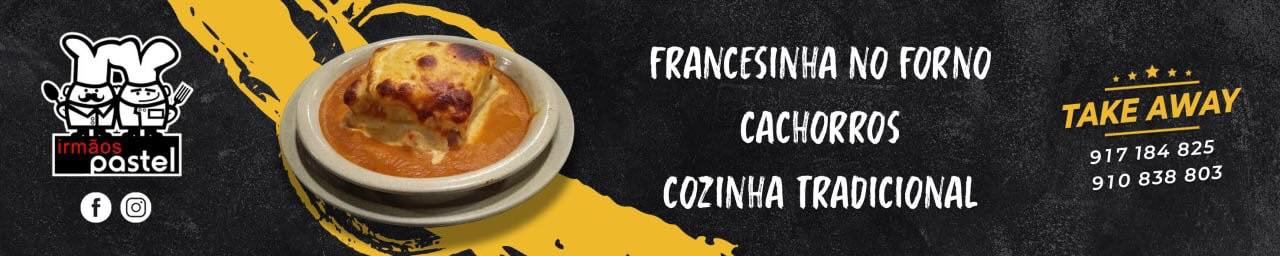
Segundo, e talvez mais importante, o tratado não elimina a violência futura; pelo contrário, baseia-se nela. Para que um acordo seja respeitado, paira sempre a ameaça (implícita ou explícita) do recurso à força. Cada parte reserva, em última instância, o direito de usar a violência para defender os seus interesses, caso o acordo seja violado ou as circunstâncias mudem. A paz assinada seria, assim, uma paz armada, uma paz sob condição, uma paz que respira a atmosfera da violência que deveria ter banido.
Esta visão contrasta radicalmente com a grande esperança do Iluminismo, talvez melhor expressa por Immanuel Kant, que acreditava ser possível alcançar uma “paz perpétua” precisamente através da razão e do direito. Para Kant, acordos e tratados, quando baseados em princípios racionais, públicos e universais, poderiam de facto superar o estado de guerra endémico entre as nações. A lei, para Kant, era o instrumento capaz de domesticar a violência e instaurar uma ordem justa e duradoura.
Onde nos deixa este confronto de ideias? Se levarmos a sério a crítica de Benjamin, somos forçados a olhar para os processos de paz contemporâneos com um olhar mais cético. Quantos acordos celebrados com pompa não se revelaram meras pausas antes de novas hostilidades? Quantos tratados, ao fixarem fronteiras ou distribuírem recursos de forma desigual, não semearam eles próprios os ressentimentos que alimentaram conflitos futuros? Quantas vezes a “paz” imposta não significou a continuação da injustiça para os vencidos ou marginalizados?
Isto não significa, claro, que devamos desistir de procurar acordos. Numa realidade marcada pelo conflito, a negociação e o compromisso jurídico são muitas vezes as únicas ferramentas disponíveis para tentar limitar o sofrimento e criar espaços de coexistência. O ideal kantiano de uma ordem internacional baseada na lei continua a ser um horizonte necessário.
Contudo, a lucidez crítica de Benjamin serve como um alerta vital. Lembra-nos que a paz não se alcança apenas com assinaturas em papel. Exige mais do que a mera ausência de guerra; exige justiça, reconciliação, uma transformação das condições que geram a violência. Obriga-nos a questionar os acordos que nos são apresentados: a quem servem realmente? Que violências escondem sob a capa da legalidade? Que futuro preparam?
A verdadeira paz talvez não resida apenas nos tratados que assinamos, mas na qualidade da nossa vigilância crítica sobre eles e na nossa capacidade de imaginar e lutar por formas de coexistência que não contenham, já na sua raiz, a semente da próxima guerra.